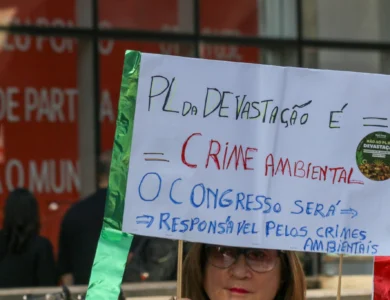Você já ouviu falar de desertificação?
A desertificação é o processo pelo qual o potencial produtivo da terra é progressivamente destruído pela pressão das atividades humanas sobre ecossistemas frágeis, cuja capacidade de regeneração é limitada.
Na definição da ONU, enquadram-se como desertificação apenas as áreas em clima semiárido, árido e subúmido seco. Embora a Mata Atlântica não se enquadre nessas categorias climáticas, muitas de suas regiões sofrem processos análogos de degradação do solo, causados pelo desmatamento e pela substituição da vegetação original por pastagens ou monoculturas.
Terras cobertas por monoculturas, pastagens e áreas fragmentadas vêm sofrendo com a perda de nutrientes, da estrutura do solo e da capacidade de reter água. Esse processo confirma o alerta: quando o solo se degrada, a biodiversidade entra em risco, o carbono deixa de ser absorvido e as crises hídricas, sociais e climáticas se intensificam.
Entre as causas mais frequentes está o desmatamento para a expansão agrícola, que reduz a cobertura vegetal e deixa o solo exposto aos efeitos do vento e da chuva, o sobrepastoreio, que compacta o solo e impede a infiltração de água, as monoculturas intensivas sem rotação, que esgotam os nutrientes e irrigações inadequadas, que podem levar ao acúmulo de sais na superfície.
Na Mata Atlântica, a remoção de espécies nativas para dar lugar a lavouras ou pastagens acelera a erosão e diminui a capacidade de retenção hídrica, enquanto a fragmentação florestal enfraquece o ecossistema e reduz o fluxo de matéria orgânica para o solo.
Os impactos são múltiplos:
- ambientalmente, a perda de cobertura vegetal reduz o sequestro de carbono e compromete e biodiversidade, incluindo espécies endêmicas da Mata Atlântica;
- socialmente, comunidades que dependem da agricultura familiar veem a produtividade cair, aumentando migração e vulnerabilidade;
- economicamente, a terra infértil demanda investimentos em insumos e irrigação, elevando o custo de produção e reduzindo a renda de pequenos e médios produtores.
Restauração florestal é resposta tanto para desertificação quanto para crises do clima e da biodiversidade
O Brasil, guardião de biomas estratégicos e potência agrícola, enfrenta o paradoxo de ser ao mesmo tempo vulnerável à desertificação e protagonista em sua mitigação. No semiárido brasileiro, a desertificação já é uma realidade. Áreas como o norte da Bahia e o sul de Pernambuco enfrentam condições críticas, com, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), aproximadamente 6 mil quilômetros quadrados em estado avançado de degradação. Isso significa que a região está, na prática, se transformando em deserto. Ao mesmo tempo, nas últimas décadas, o semiárido avançou cerca de 230 mil quilômetros quadrados sobre áreas de clima subúmido seco.
Essa situação, segundo o Cemaden, atinge diretamente cerca de 38 milhões de pessoas, incluindo mais de 1,7 milhão de estabelecimentos de agricultura familiar, 42 povos indígenas e centenas de comunidades quilombolas apenas na região da Caatinga. Mas biomas como o Pantanal e a Amazônia também sofrem com processos de degradação do solo, impulsionados pelo desmatamento, as queimadas e o manejo inadequado do solo.
A Mata Atlântica, por outro lado, oferece exemplos promissores de enfrentamento a esse cenário. Seu histórico recente mostra que a recuperação de florestas nativas é possível. Entre 1985 e 2023, o bioma perdeu cerca de 3 milhões de hectares de vegetação, mas, desde a aprovação da Lei da Mata Atlântica, em 2006, houve um ganho líquido de 800 mil hectares de floresta. Projetos de restauração florestal, como os desenvolvidos no Pontal do Paranapanema, na Serra da Mantiqueira e em diversas áreas do Nordeste, vêm transformando positivamente áreas do bioma antes degradadas.
A restauração desempenha um papel fundamental no enfrentamento à desertificação ao contribuir para a retenção de água, o controle da erosão, a proteção da biodiversidade e a captura de gases de efeito estufa.
Nesse contexto, o Brasil assume um protagonismo global ao integrar a restauração florestal como uma estratégia central em suas metas climáticas. Na nova Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), apresentada em novembro na COP 29, em Baku, no Azerbaijão, o país reforçou seu compromisso com a restauração, com a redução do desmatamento e o uso sustentável de seus biomas para alcançar a neutralidade climática até 2050.
O governo brasileiro destacou, juntamente ao combate ao desmatamento ilegal, o incentivo econômico à recuperação de terras degradadas, tornando essa prática mais atrativa. Instrumentos como os planos de ação para prevenção e controle do desmatamento nos biomas brasileiros, o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) e a Estratégia Nacional de REDD+ fortalecem a capacidade do país de liderar a agenda de restauração, consolidando uma base política robusta para enfrentar a desertificação e construir um futuro sustentável.
Essa liderança ganha ainda mais relevância na próxima COP de Desertificação, realizada entre 2 e 13 de dezembro de 2024, em Riad, na Arábia Saudita. Como a maior conferência da história dedicada ao tema, a COP16 representa uma oportunidade para o Brasil apresentar suas iniciativas de restauração florestal e destacar experiências bem-sucedidas.
Divididas em três principais frentes (mudanças climáticas, biodiversidade e desertificação) as COPs (Conferências das Partes) abordam desafios interconectados que exigem soluções integradas. Entre todas as ações possíveis, nenhuma é tão transversal quanto a restauração florestal. Recuperar a vegetação nativa é a resposta tanto para combater a desertificação quanto para mitigar os impactos das mudanças climáticas e conter a perda de biodiversidade. É uma solução múltipla e, portanto, precisa ser encarada como uma necessidade imediata – a prioridade número um da agenda global.
Ainda assim, há sinais de esperança. Desde 1985, muito se perdeu, mas também houve importantes avanços em restauração florestal, com projetos que já mostram resultados concretos em regiões como o Pontal do Paranapanema e a Serra da Mantiqueira. A recuperação de áreas com vegetação nativa ajuda a reter água, controlar a erosão e conectar fragmentos de floresta, criando uma barreira natural contra os efeitos das mudanças climáticas.
Para que essa transformação aconteça de verdade, é preciso mais do que boas intenções. Restaurar exige planejamento, incentivos, fortalecimento das leis ambientais e, principalmente, articulação entre ciência, políticas públicas, setor privado e comunidades. A crise do solo é também uma crise da nossa própria base de vida. E enfrentá-la com seriedade é o único caminho possível.
Ainda é possível reverter esse quadro por meio de práticas de manejo voltadas à restauração do solo. A recuperação deve incluir o reflorestamento com espécies nativas, a proteção de matas ciliares para evitar o assoreamento de rios e a criação de corredores ecológicos que facilitem a circulação de fauna e flora.
Para que essas medidas sejam efetivas, é necessária ação conjunta de gestores públicos, pesquisadores, grandes empresas e comunidades locais. Somente assim será possível frear a perda de solo fértil e preservar os serviços ambientais que sustentam os ecossistemas e a qualidade de vid no Brasil.
Fontes: